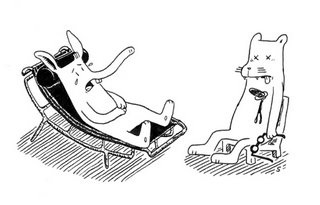Acabamos de assistir a
Diamante de Sangue, de Edward Zwick, sobre a guerra civil em Serra Leoa e o contrabando ilegal de diamantes. É interessante notar a quantidade de filmes hollywoodianos e políticos que vêm surgindo, claro que
Diamante de Sangue não possui a sutileza, a dimensão trágica e a solidão de
O Jardineiro Fiel, por exemplo, esta revolução feita por Fernando Meireles ao livro de John le Carré. Há vários momentos “para chorar e se emocionar” que poderiam, muito facilmente, ter sido cortados. Mas há também Leo di Caprio com um personagem que não faz concessões e Jennifer Connely, como uma jornalista tão inverossímil que chega a ser poético e... Djimon Hounson. Djimon Hounson é a alma do filme, o touro e o toreador.
Diamante de Sangue me deu imagens para imaginar outra situação, me deu imagens para ver o que eu até então apenas imaginava.
A Companhia das Letras já vem lançando, há algum tempo, a coleção “Companhia de Bolso”. Os preços são mais acessíveis, em pequenas edições, com capas simpáticas e nenhuma diminuição na qualidade dos títulos:
Nove Noites, de Bernardo Carvalho;
O queijo e os vermes, de Carlo Ginzburg;
Cisnes Selvagens, de Jung Chang; além de outros autores que não precisam de apresentação – Saramago, Rubem Fonseca, Kafka, Ítalo Calvino…
Passeando numa livraria, vejo o título de um dos livros desta coleção:
Gostaríamos de informá-lo que amanhã seremos mortos com nossas famílias, de Philip Gourevitch. O título não me agrada, ele me envia a um poema de Jamil Snege, “Doce primavera”: “Esta semana fomos todos chacinados. Eu, você, nossos vizinhos, a velhinha do segundo andar, o garoto loiro da casa da esquina. Fomos todos massacrados e nossos cadáveres, inchados e perplexos, amanheceram nos passeios, nos monturos, junto às casa derruídas…” Eu não aceitava a disputa entre esta notícia do assassinato de amanhã, estampada no título de um livro, e esta chacina do passado, do livro "O jardim, a tempestado", que amo tanto.
Eu não sabia.
A carta, do dia 15 de abril de 1994, dizia:
“Nosso querido líder, pastor Elizaphan Ntakirutimana,
Como vai? Esperamos que esteja firme em meio a todos esses problemas que estamos enfrentando. Desejamos informar-lhe que soubemos que amanhã seremos mortos junto com nossas famílias. Por isso lhe pedimos que interceda em nosso favor e fale com o prefeito. Acreditamos que, com a ajuda de Deus, que lhe confiou a liderança deste rebanho que está para ser liquidado, sua intervenção será altamente reconhecida, assim como a salvação dos judeus por Ester.
Nós os reverenciamos.”
Entre abril e maio de 1994, cerca de 800 mil pessoas, da etnia
tusti, foram assassinadas em Ruanda. Este foi o primeiro saldo, que não deixou de crescer nos meses e anos seguintes, com a evolução do conflito entre Poder Hutu e FPR – Frente Patriótica Ruandesa, e a ditadura de terror da
interhamwe no campo de refugiados.
A carta acima foi escrita por pastores
tutsis presos em uma igreja e enviada para seu bispo. No dia seguinte, todos os que estavam no complexo adventista de Mugonero foram assassinados a golpes de facão. Os que sobreviviam tinham seus tendões de Aquiles cortados ou as gargantas parcialmente retalhadas, a fim de que a agonia durasse mais tempo. E, grande parte daqueles que mantiveram suas vidas, perderam braços e pernas ou carregam as marcas dos golpes.
O bispo Elizaphan Ntakirutimana havia sugerido aos pastores e às pessoas que procuravam abrigo que ficassem na igreja. Durante algum tempo, policiais ofereceram alguma proteção aos refugiados, mediante pagamento. Mais tarde, o dr Gerard, filho do bispo, levou os policiais embora num carro da milícia
hutu. Desesperados, os pastores escreveram a carta ao bispo. No dia 16 de julho, Elizaphan Ntakirutimana e seu filho avisaram aos refugiados que haviam encontrado uma solução: “Vocês devem ser eliminados. Deus não quer mais vocês.”
O ex-bispo fugiu em julho de 1994 para os EUA, onde adquiriu um
green card e, por isso, não pôde ser extraditado para Ruanda. Mais tarde, o tribunal internacional instalado em Arusha, esta farsa lenta e cruel representada pela ONU, conseguiu extraditá-lo para Tanzânia. Ele foi julgado e condenado - não consegui encontrar a informação de qual foi sua pena e se ele a está cumprindo. Seu defensor foi um dos mais caros advogados dos Estados Unidos, Ramsay Clark.
Desde a década de 60, massacres contra
tutsis eram recorrentes e, no começo da década de 90, os partidários do Poder Hutu falavam abertamente do genocídio futuro. Entre abril e junho de 98, o assassinato desta etnia minoritária (não mais que 15% da população
) era atividade legal dentro do território de Ruanda, estimulado pelos generais que tomaram o poder menos de 24 depois da morte do presidente Habyarimana. As listas das pessoas que seriam mortas naquele dia eram recitadas no rádio e, não raro, ruandeses
tutsi ouviam seus próprios nomes sendo anunciados. Quando Gourevitch esteve por lá, entre 95 e 98, Ruanda era um país vazio, vazio de gente,
tutsi ou
hutu, vazios de cachorros que passaram a ser mortos por comerem os cadáveres.
Em 1994, sabia-se tanto sobre o genocídio que acontecia em Ruanda quanto hoje sabemos sobre o massacre étnico que hoje ocorre em Dafur e a participação internacional foi tão nebulosa e desastrosa quanto é a atual ação dos EUA contra os islâmicos da Somália. Todos os apelos jornalísticos ou das tropas internacionais estacionadas em Ruanda foram ignorados. Quando as notícias começaram a surgir, depois de meses de insistência da França de que o massacre era, na verdade,
tutsis matando
hutus, foi preciso mais de um ano depois de estabilizada a região para que o presidente Clinton e sua secretaria de Estado, Madeleine Albright, admitissem utilizar o termo “genocídio”.
Se, a princípio, esta atitude parece conter alguma lógica – se os africanos decidiram se matar uns aos outros, o problema é deles –, não demora muito para perceber que trata-se de uma tentativa de camuflar a violenta participação do ‘mundo ocidental civilizado’ na origem deste conflito e na maturação da idéia do genocídio.
Há, de fato, diferenças físicas entre
tutsi e
hutus. Os primeiros são mais altos, os segundos têm rostos mais arredondados, peles mais claras, peles mais escuras, etc. Mas não há como determinar apenas pela aparência quem é o quê – vários mestiços de
tutsi e
hutus mataram como
hutus ou foram assassinados como
tutsis. Conhecia-se quem era
tutsi ou
hutu porque, normalmente, o assassino era o vizinho ou o médico do hospital local ou um cunhado. Mas a idéia de que os
tutsis são mais refinados, de origem mais nobre que os
hutus, podemos agradecer a Jonh Hanning Speke - aquele que queria descobrir a nascente do Nilo - que chegou a afirmar que os hutus eram descendentes de Cam, amaldiçoado por Noé como “o ultimo dos escravos”.
Em 1897, a Alemanha construiu seus primeiros postos avançados em Ruanda e, depois da Primeira Guerra, foi a Bélgica que se apropriou do país. Mesmo durante o governo indireto alemão, havia uma alternância entre
hutus e
tutsi, com predominância
tutsi; foram os belgas que estabeleceram uma rígida fronteira entre um e outro grupo, ao emitir carteiras de identidade étnicas. Privilégios foram estabelecidos para os
tutsti, acompanhados de uma violenta exploração dos
hutus, tudo isso baseado em critérios tão científicos quanto “índices nasais” . No fim da década de 50, intelectuais
hutus se organizaram em protesto e um deles foi espancado, os
hutus tomaram o poder e as ondas de vingança e revide duram até hoje.
Já a lamentável participação da França no massacre em Ruanda é um capítulo a parte. Sustentando o baluarte de defensora dos direitos humanos, de país onde nasceu a democracia e os valores legais modernos, dando hipócritas conselhos aos EUA sobre a invasão ao Iraque, a França mal consegue esconder sua postura neocolonialista grosseira no continente africano. Suspeita-se até mesmo da participação do filho de Miterrand no contrabando de armas para o Poder Hutu durante o genocídio e, ainda hoje, a França acusa o presidente ruandês Paul Kagame do assassinato do presidente Habyarimana que, todos sabem, foi morto por ordens de seus próprios aliados por ser visto como um ‘hutu moderado’. (Dizem também que a naturalista Dian Fossey foi assassinada a mando do séquito da esposa de Habyarimana, Madame Agathe Kanzinga). A grande lição ocidental deixada por alemães, belgas e franceses aos ruandeses foi a de igualar etnia e política, encontrando aí justificativas para o assassínio.
Em qualquer análise política, de qualquer país, mais cedo ou mais tarde, você se depara com situações de dilema, onde qualquer das opções, qualquer dos caminhos tomados terá efeitos poderosos e imprevisiveis no futuro. O problema é que, em Ruanda, os dilemas se apresentam muito imediatamente, sem apontar nenhum caminho: a brutalidade ébria dos
genocidáires, mas a submissão dos
tutsis à idéia de sua própria morte; os voluntários das organizações internacionais, peões num jogo político muito maior, lutando para manter uma ou outra vida, mas que não esquecerão e nem se perdoarão por terem pisado sobre pilhas de cadáveres; os
tutsis repatriados depois de quarenta anos não agüentando mais os relatos dos sobreviventes; os sobreviventes não vendo nos repatriados mais que oportunistas e insensíveis; as prisões pós-genocídio, lotadas por homens, mulheres
e crianças, fazem as prisões brasileiras parecerem ilhas da fantasia, mas eram o lugar mais seguro para os que estavam lá ; o código penal de ruanda aceita a pena de morte, fazendo da expressão de justiça – pena capital para aqueles que mataram outras pessoas – possibilidade concreta de outro extermínio (razão pela qual o governo escolheu julgar apenas os que consideravam mandantes, sendo que a maioria deste conseguiu sair de Ruanda com as organizações internacionais).
A análise de Gourevitch é uma análise de desespero, que tenta cobrir todas as possibilidades, tenta explicar como isto aconteceu para que não aconteça novamente, mas já sabendo que uma boa análise não é suficiente para impedir que fatos se repitam. O jornalista seleciona seus ângulos e os combina: a visão histórica, a visão política, o ponto de vista de um estrangeiro em Ruanda até chegar ao horror absoluto de um sujeito qualquer, sem nacionalidade, sem profissão, sem cor de pele, diante do que aconteceu: "…eu frequentemente me lembrava do momento, perto do fim de
O coração das trevas, de Conrad, em que o narrador Marlow está de volta à Europa e sua tia, achando-o exaurido, cercava sua saúde de cuidados. ‘Não era minha saúde física que precisava de cuidados’, diz Marlow. ‘Era minha imaginação que precisava de alívio’.”
Em
Diamante de Sangue, alguns personagens tem um código para explicar a loucura à sua volta: “TIA - This is África.” Somos todos África, então.
Sites:
http://www.voltairenet.org/article126127.htmlhttp://cartamaior.uol.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=13371